
29
de maio de 2013 | N° 17447
EDUARDO
VERAS
Aquém do horizonte
Há
um poema de Rudyard Kipling em que o primeiro homem, depois de assistir ao
primeiro pôr do sol, pega uma vara e risca uma linha no chão. Em seguida, o
Diabo lhe chega por trás do ombro e comenta: “Ficou bonito, mas será que é
arte?”. O assunto da anedota é o quanto a crítica se compraz em nos perturbar
as certezas, mas nem por isso o poema deixa de contemplar o próprio tema da
criação: o sol não está mais no horizonte; resta a linha.
Imagine
agora essa linha sobre uma folha de papel, folha pequena, meio ofício. Imagine
que a linha não é reta, feito a do poema, mas é como aquela dos skylines
urbanos, acompanhando o ritmo dos edifícios.
Não
precisa pensar em Noviorque, Porto Alegre já serve. Imagine agora que a linha
define um único prédio, não um desses grandes e pretensiosos, que sua cidade
tanto ama, mas um pequeno, já velho, três ou quatro andares. Imagine que, da
linha para baixo, tudo se preenche minuciosamente; o lápis pastel se esfumaça
em preto, cinza e branco, sugerindo planos, arestas, volumes.
Vê-se
apenas o topo do prediozinho: a caixa d’água, as paredes sujas, alguma
basculante, calhas, telhas, canos. Para cima da linha, além do que seria o
horizonte, apenas o branco do papel.
Agora
imagine que a parte debaixo desse prédio desenhado é recortada pelo que seria o
perfil de um segundo edifício, um pouco mais baixo, dois ou três andares, ou
ainda uma casa. Porém, em vez de desenhar esse segundo edifício, imagine que,
em seu lugar, tudo permanece em branco. É como se aquilo que (não) aconteceu
acima da linha do horizonte se repetisse nessa porção inferior do papel: tudo
em branco. O desenho mesmo, aquilo que foi riscado, ocupa apenas o meio da
folha.
Talvez
seja algo difícil de imaginar. Tentei descrever como enxergo os desenhos de Marcos
Fioravante, jovem artista de apenas 23 anos. Encerrou-se faz pouco a exposição
que ele apresentava na Galeria Gestual, em Porto Alegre. Boa parte de seus
trabalhos ainda pode ser vista no acervo da casa, ao vivo, ou em reproduções no
site (www.gestual.com.br/art/mar cos_exposicoes.htm).
Os
pequenos desenhos em preto e branco, representando o topo de modestos
edifícios, parecem sintetizar o próprio sentido do que é – e como funciona – um
desenho: o que se risca, mas também o que se deixa em branco, o que o contorno
define, mas também aquilo que nem se risca e que, ainda assim, consegue definir
um contorno. O espaço intermediário entre dois planos, e também os planos. O
desenho surge, ao mesmo tempo, além do horizonte e aquém dele.


 O
medo nasce da história que contamos a nós mesmos. Descobri isso quando viajei
sozinha pela primeira vez, aos 24 anos. Idade semelhante à da protagonista do
livro que estou lendo, sendo que no caso dela a aventura foi bem mais radical
que a minha: se eu mochilei de trem pela Europa, ela mochilou a pé por uma
trilha numa região montanhosa dos Estados Unidos.
O
medo nasce da história que contamos a nós mesmos. Descobri isso quando viajei
sozinha pela primeira vez, aos 24 anos. Idade semelhante à da protagonista do
livro que estou lendo, sendo que no caso dela a aventura foi bem mais radical
que a minha: se eu mochilei de trem pela Europa, ela mochilou a pé por uma
trilha numa região montanhosa dos Estados Unidos. 




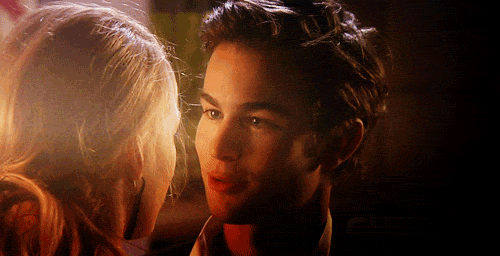



 Mãe é para sempre, presença necessária em qualquer etapa da vida, tanto que,
nos nossos momentos mais difíceis, é nela que pensamos mesmo que ela já tenha
falecido. Mãe é um consolo universal, pois sabemos que ninguém nos ama ou amou
tanto quanto ela. Na hora do sufoco, entre rogar a Deus ou à nossa adorada
progenitora, Deus fica de estepe e nem se atreve a reclamar.
Mãe é para sempre, presença necessária em qualquer etapa da vida, tanto que,
nos nossos momentos mais difíceis, é nela que pensamos mesmo que ela já tenha
falecido. Mãe é um consolo universal, pois sabemos que ninguém nos ama ou amou
tanto quanto ela. Na hora do sufoco, entre rogar a Deus ou à nossa adorada
progenitora, Deus fica de estepe e nem se atreve a reclamar.